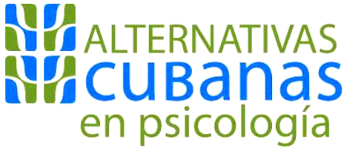Vanessa Clementino Furtado
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá – MT Brasil
Resumo
Este artigo apresenta uma leitura crítica à luz da Ontologia do Ser Social, de nossa pesquisa de mestrado sobre Imaginação e Criação. A pesquisa foi embasada em dois autores: Cornelius Castoriadis e Lev S. Vygotsky. Castoriadis, ao romper com o marxismo, traça um arcabouço teórico objetivando analisar caminhos para o processo revolucionário e acredita que a ontologia humana está fundada no Imaginário Radical. Já Vygotsky analisa o desenvolvimento psicológico da Imaginação e Criação à luz do materialismo histórico e dialético. O debate entre essas diferenças ontológicas levou-nos à crítica ao modelo ontológico castoriadinano e à explicitação da noção ontológica marxiana presente na obra vygotskiana, na qual o autor demonstra que Imaginação e Criação se constituem como partes das práxis humanas. Embora determinadas objetiva e materialmente, ainda são essas categorias essenciais para compreender a capacidade humana de se libertar, inclusive da realidade objetiva e material transformando‑a e transformando a si própria.
Palavras-chave: Imaginação, Criatividade, Ontologia, Castoriadis, Psicologia Histórico-Cultural
Resumen
Este artículo presenta una lectura crítica a la luz de la Ontología del Ser Social, a partir de nuestra investigación de maestría sobre Imaginación y Creación. La investigación se basó en dos autores: Cornelius Castoriadis y Lev S. Vygotsky. Castoriadis, al romper con el marxismo, esboza un marco teórico cuyo objetivo es analizar los caminos del proceso revolucionario y cree que la ontología humana se fundamenta en el Imaginario Radical. Vygotsky analiza el desarrollo psicológico de la Imaginación y la Creación a la luz del materialismo histórico y dialéctico. El debate entre estas diferencias ontológicas nos llevó a criticar el modelo ontológico castoriadinano y a explicar la noción ontológica marxista presente en la obra de Vygotsky, en la que el autor demuestra que la Imaginación y la Creación se constituyen como partes de la praxis humana. Aunque determinadas objetiva y materialmente, estas categorías siguen siendo esenciales para comprender la capacidad humana de liberarse, incluso de la realidad objetiva y material, transformándola y transformándose a sí mismo.
Palabras clave: Imaginación, Creatividad, Ontología, Castoriadis, Psicología Histórico-Cultural
Abstract
This article presents a critical reading in the light of the Social Being’s ontology, based on our research on Imagination and Education. Two authors were used: Cornelius Castoriadis and Lev S. Vygotsky Castoriadis, when breaking with Marxism, traces a theoretical framework aiming to analyze paths for the revolutionary process and believes that human ontology is founded on the Radical Imaginary. Vigotsky, on the other hand, analyzes the psychological development of Imagination and Creation in the light of historical and dialectical materialism. The dialogue between these ontological differences, led us to criticize the ontological model castoridiano and explain the Marxian ontological notion present in the Vygotskian work in which the author demonstrates that Imagination and Creation constitute themselves as parts of human praxis. Although, determined objectively and materially, these categories are still essential to understanding the human capacity to break free, including from objective and material reality transforming it and transforming itself.
Keywords: Imagination, Creativity, Ontology, Castoriadis, Historical-Cultural Psychology
Imaginação e criação: questões ontológicas
Esse artigo objetiva apresentar uma análise sobre as categorias Imaginação e Criação como capacidades eminentemente humanas que balizam as possibilidades do agir em liberdade e constituem parte da essência do ser humano enquanto ser social cuja gênese está fundada no trabalho.
Esse trabalho é embasado, em partes, nas elaborações teóricas da pesquisa de mestrado da autora, cujo objetivo foi analisar em que consistem as raízes da atividade humana transformadora a partir dessas categorias de análise: Imaginação e Criação.
Nesse artigo, visa-se a apontar os equívocos na interpretação da teoria vygotskiana na pesquisa citada, assim como apresentar uma análise crítica do referencial castoriadiano à luz do método materialista histórico e dialético e da Ontologia do Ser Social.
A escolha de Castoriadis se deu por sua vasta produção intelectual na qual, por meio de uma análise crítica da história da filosofia clássica e das heranças dessa no pensamento moderno e na crítica à Freud e Marx, o autor fundamenta uma ontologia humana justamente no processo imaginativo e criativo, que são analisados como Imaginário Social e Imaginação Radical, fundados no Imaginário Radical.
Vygotsky, por sua vez, é um autor que, inserido na tradição marxista em que a ontologia está fundada no trabalho, vai traçar um referencial acerca do desenvolvimento humano, analisando histórica e socialmente as raízes das Funções Psicológicas Superiores, compreendendo a Imaginação como um Sistema Psicológico, ou seja, uma atividade que congrega a inter-relação entre as Funções Psicológicas Superiores.
O aprofundamento nos estudos sobre as bases Ontológicas do Ser Social na tradição marxista e da centralidade do método materialista histórico e dialético na teoria vygotskiana, torna-se possível analisar criticamente a ideia, conforme expressa por Castoriadis, de uma ontologia fundada na imaginação e apontar seus limites e inconsistência.
O elemento imaginário e as análises de Castoriadis para uma ontologia
Castoriadis apresenta uma nova forma de pensar criticamente o paradigma da modernidade. Sua produção teórica caracteriza-se por ser uma construção rica, densa, processual e complexa, orientada para compreender o homem dentro dos diversos processos de sua condição social, cultural e histórica. De acordo com González-Rey, (2003, p. 98): “(…) Castoriadis está imerso sempre nas duas fontes teóricas principais de sua obra: Marx e Freud, apesar de que realiza uma crítica explícita a ambas, a partir da qual organiza seu próprio aporte teórico e metodológico”.
Trata-se de um aporte teórico coerente que analisa minuciosa e criticamente as categorias filosóficas clássicas, a fim de romper com a lógica ontológica herdada. A sua obra seminal “A instituição Imaginária da Sociedade” (1975/2000) apresenta suas críticas a Freud e Marx, caminho teórico fundamental que o levou às análises que balizam sua defesa do Imaginário Radical como fundante do ser social. De acordo com Autora et.al. (2008, p. 27):
Castoriadis foi um pensador inovador, que cuidadosamente evitou os modismos da hora na vida intelectual francesa (…). Se o quadro do marxismo não lhe satisfazia mais, tampouco a cena francesa lhe oferecia qualquer ânimo; suas críticas não o levaram a cair no liberalismo, como muitos ex-marxistas, ainda menos a fazer qualquer concessão na luta contra a opressão e pela instituição da autonomia humana.
Castoriadis era um militante da autonomia, mas também pode ser chamado de “O filósofo da imaginação”, pois dedicara grande parte de seus escritos às investigações acerca desse tema, associando as categorias imaginação e criação e analisando a imaginação como base daquilo que nos faz humanos.
Castoriadis estudou a Imaginação Social e Radical sob a ótica da criação e não subordinadas ao determinismo, portanto, analisando a História como autocriação humana. Como se pode notar, tal referencial não poderia ser deixado de fora para contribuir com a temática que se propôs esta pesquisa, tampouco pode ser ignorado em estudos que visam a analisar as reais condições humanas de romper com a subjugação imposta pela sociedade capitalista.
Castoriadis, em diversos textos, em especial, na série: “Lo que hace la Grecia, La cite et le lois e Thucidyde: la forece et le droit” discute qual foi o grande feito para a humanidade da filosofia grega. De acordo com ele, os gregos quando criam a filosofia ocidental só o fazem porque antes disso as tragédias abriram-lhes o caminho para filosofar.
E o que as tragédias gregas revelam? Para Castoriadis, elas desvelam o Caos/Abismo/Sem Fundo que é, em última instância, a morte. Ou seja, sobre esse abismo que a sociedade se constrói, os seres humanos são animais que têm consciência da morte, da finitude, e por iss mesmo instituem a sociedade. Devido à explicitação do Caos, os gregos passam a questionar o sentido da vida, passam a se questionar e, além, questionam as instituições às quais estão subordinados. Destituem a magia de Zeus e seu Olimpo, saem do mundo dos mitos, que já constituiam como uma instituição imaginária,
Assim, são as atividades da filosofia e política que “ordenam” o mundo dos gregos. Elas são aquilo que dá sentido para vida deles. A filosofia grega busca uma cosmologia, uma ordem. Pode-se dizer que, é olhando para a morte (fim) que os gregos filosofam.
Castoriadis busca fundar sua ontologia no Imaginário Radical, a parte dessa análise da criação do mundo grego, numa tentativa de compreender os processos humanos em sua gênese, de forma monista e, principalmente, tentando se livrar das teses do fim da história e do pensamento ontológico herdado. Exaltando, assim, a capacidade humana de imaginar e construir, criar as instituições que, por sua vez, fazem parte da instituição da humanidade.
O Ser humano só pode torna-se racional ao ser socializado, ao se apropriar da cultura em que está inserido. A criança passa a compreender que o discurso de sua mãe, por exemplo, que corrige o comportamento do filho, não carrega as significações que a mãe sozinha lhes dá, mas sim traz consigo as significações instituídas por toda uma sociedade.
A psique é, antes de tudo, imaginação radical, na medida em que é fluxo ou torrente incessante de representação, desejos, afetos. Essa torrente é emergência contínua. É inútil fechar os olhos ou tapar os ouvidos – haverá sempre alguma coisa. Essa coisa se passa “dentro”: imagens, lembranças, desejos, temores, “estados da alma” surgem de modo que às vezes podemos compreender ou mesmo “explicar”, e outras vezes absolutamente não. (Castoriadis, 2004, p. 131).
E por Imaginário Radical compreendemos:
(…) a instância que transcende o substrato biológico, permitindo que o ser humano se torne único em relação aos outros animais. É “onde” se dá a criação, possibilitando o surgimento da subjetividade, o que leva à distinção, também, dos demais seres humanos. As produções do imaginário radical podem impressionar porque se caracterizam pela ausência de subordinação à determinidade; não se restringem aos sentidos e às explicações que possamos dar a elas. (Tauro, Balthazar e Furtado., 2008, p. 04–05).
Destarte, são nas produções psíquicas que o autor compreenderá, de forma mais explícita, a dimensão não determinável do ser humano. Assim, ele exaltará a descoberta de Freud – o inconsciente – por ignorar o tempo e a contradição, afirmando que tal descoberta não fora bem utilizada e postula que:
O inconsciente constitui um “lugar” onde o tempo (identitário) – como determinado por e determinando uma sucessão ordenada – não existe, onde os contraditórios não se excluem mutuamente, mais precisamente, onde não se pode cogitar de contraditórios, e que não é verdadeiramente um lugar, já que o lugar implica a ordem e a distinção. (…) O inconsciente só existe enquanto como fluxo indissociavelmente representativo/afetivo/ intencional. (Castoriadis, 2000, p. 317).
Ao tratar o inconsciente enquanto fluxo, ele está em franca oposição ao inconsciente freudiano que é estático e já determinado sem que haja atualização. Dessa forma, para Castoriadis os conteúdos inconscientes são atualizados à medida que o indivíduo é afetado. O inconsciente castoriadiano é dinâmico, logo, perde a característica de repetição do passado e se torna a emergência das representações e estruturas novas:
“Mais ainda aqui o espantoso no ser humano não é que ele imita – se ele nada tivesse senão isso, seríamos todos Adões e Evas – mas que ele não imita, que ele faz uma coisa diversa da simples imitação” (Castoriadis, 2007, p.110).
Castoriadis trabalha com as instâncias do consciente e inconsciente, contudo não aceita o predomínio do inconsciente enquanto função dominadora única do comportamento humano:
(…) posso ser livre se estabelecer com meu inconsciente um outro tipo de relação, uma relação graças à qual posso saber, na medida do possível, o que acontece nesse nível e que me permita, na medida do possível, filtrar tudo aquilo que, do inconsciente, passa para minha atividade exterior, diurna. (Castoriadis, 2004, p. 315).
Por essa razão, o autor afirma que a psicanálise deve ter, como objetivo último, a autonomia dos indivíduos, assumindo, com isso, uma práxis também política. É Preciso se libertar não apenas dos grilhões que outros impõem, mas também daqueles que são criados, de forma imaginária, pelo próprio indivíduo, obviamente, criação essa mediada pelas significações imaginárias sociais. Portanto, Castoriadis não apenas se apoia na psicanálise, mas tece críticas que culminam em importantes contribuições para essa ciência que, ao seu olhar, deve assumir, também, uma postura e prática política, contribuindo para a emancipação dos indivíduos.
Sua radicalidade revolucionária se situa justamente na tentativa de não sucumbir ao fatalismo do fim da revolução da União Soviética e não deixa olvidar são os seres humanas capazes de criar outro mundo, com novas lógicas individuais e coletivas, ainda que a lógica capitalista pareça tão natural e impossível de subverter, é preciso compreender que este sistema é fruto da criação humana e por isso mesmo é passível de ser transformado e revolucionado.
A psique e suas funções psicológicas superiores como fruto do trabalho ontológico — Vygotsky
Sem abandonar o marxismo e demonstrando um profundo conhecimento e rigor em relação ao método materialista histórico e dialético, Vygotsky vai analisar Imaginação e criatividade como funções psicológicas superiores, próprias do ser humano.
Para Vygotsky, o ser humano por meio da imaginação compõe com a realidade uma relação tanto de dependência quanto de distanciamento. É da realidade que retiramos os conteúdos que comporão nossa imaginação: “Seria um milagre se a imaginação inventasse do nada ou tivesse outras fontes para suas criações que não a experiência anterior” (Vygotsky, 1930/2009, p. 20). E, para ele, a imaginação é o ponto crucial da união desses dois mundos, o social e o individual/subjetivo, na atividade psíquica.
Ao passo que a imaginação depende da realidade, ela também tem a capacidade de se afastar dela, constituindo-se, assim, em uma importante forma de conhecimento dessa mesma realidade. Para a imaginação, é importante a direção da consciência que consiste em se afastar da realidade, em uma atividade relativamente autônoma da consciência, que se diferencia da cognição imediata da realidade.
(…) toda penetração mais profunda na realidade exige uma atitude mais livre da consciência para com elementos dessa realidade, um afastamento do aspecto externo aparente da realidade dada imediatamente na percepção primária, a possibilidade de processos cada vez mais complexos, com a ajuda dos quais a cognição da realidade se complica e enriquece (Vygotsky, 1932/1998, p. 129).
A relação de dependência fica evidente quando Vygotsky discorre acerca da atividade do brinquedo na criança, ela é o que estimula a imaginação e auxilia a criança em suas ações de modo a internalizar e criar regras, o que a orientaria para a realidade:
Portanto, a noção de que uma criança pode se comportar em uma situação imaginária sem regras é simplesmente incorreta. Se a criança está representando o papel de mãe, então ela obedece às regras de comportamento maternal. O papel que a criança representa e a relação dela com um objeto (se o objeto tem seu significado modificado) originar-se-ão sempre das regras. (Vygotsky, 2007, p.112)
Embora a atividade imaginária é também aquilo que liberta do imediatamente dado, as crianças de tenra idade não são capazes de agir dessa forma. Assim, será a partir da aquisição da capacidade de signalização e da mediação da linguagem, que a imaginação passa a agir de modo a se libertar da realidade, processo que se completa na adolescência pelos pensamentos em conceitos, pensamentos por abstrato. Então, a imaginação se modifica e amplia.
Por isso, a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, o que se explica pela maior pobreza de sua experiência. “(…) A imaginação origina-se exatamente desse acúmulo de experiência” (Vygotsky, 1930/2009, p. 22). Aqui, pode-se notar a imbricada relação entre imaginação e perijivênie. Então, quanto mais rica a experiência/vivência da pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela, como conteúdo de sua memória e constituição de seu pensamento.
Para Vigotsky, o pensamento é gerado a partir dos afetos que sofre o corpo, tudo aquilo que somos capazes de sentir, sua gênese é material. “Desta forma, todas nossas vivências fantásticas e irreais se desenvolvem sobre uma base emocional completamente real” (Vygotsky, 1925/1972 p. 258). Dessa feita, imaginação e sentimentos não são processos isolados entre si. Há, entre eles, uma mútua dependência, uma vez que, a imaginação é capaz de gerar sentimentos e esses também podem determinar a imaginação.
Vygotsky (1930/2011, p. 258) afirma:
(…) todo sentimento, toda emoção tende a se manifestar em determinadas imagens concordantes com ela, como se a emoção pudesse escolher impressões, ideias, imagens congruentes com o estado de ânimo que nos dominasse naquele instante. Do mesmo modo como os homens aprenderam há muito tempo a manifestar por meio de expressões externas seu estado interior de ânimo, também as imagens da fantasia servem de expressão interna para nossos sentimentos. (…) As imagens da fantasia servem de linguagem interior aos nossos sentimentos selecionando determinados elementos da realidade e combinando-os de tal forma que respondam ao nosso estado interior de ânimo e não a lógica exterior dessas imagens.
Ele compreende o caráter criativo da imaginação:
(…) não repete em formas e combinações iguais impressões isoladas, acumuladas anteriormente, mas constrói novas séries, a partir das impressões anteriormente acumuladas. Em outras palavras, o novo que interfere no próprio desenvolvimento de nossas impressões e as mudanças destas para que resulte uma nova imagem, inexistente anteriormente, constitui, como se sabe, o fundamento básico da atividade que denominamos imaginação (Vygotsky, 1932/1998, p. 107).
Para Vygotsky, a imaginação é a base da criação e na base da criação há sempre uma inadaptação, da qual surgem as necessidades, essa necessidade que levou o ser humano a intervir de forma orientada na natureza para transformá-los e adaptá-la. Daí que se pode criar e transformar, não apenas a natureza, mas o próprio ser humano de forma individual e coletiva.
A questão que se revela aqui é que, justamente, porque o ser humano foi/é capaz de criar também uma trama de sentidos e significados que ele foi capaz de romper com seus instintos selvagens.
Todas as investigações biológicas conduzem à ideia que o homem mais primitivo que conhecemos merece biologicamente o título completo de homem. A evolução biológica do homem já tinha terminado antes que começasse seu desenvolvimento histórico. Já, a tentativa de explicar a diferença entre nossa forma de pensar e a do homem primitivo, considerando que esse se encontre em outro nível de desenvolvimento biológico, constituiria uma confusão grosseira entre os conceitos de evolução biológica e desenvolvimento histórico. (Vygotsky, 1930/2004 p. 115)
Assim, para o autor, a imaginação e a criatividade, como parte do processo do trabalho humano, representariam esse desenvolvimento histórico-cultural da psique humana e assevera:
Efetivamente, a luta pela existência e a seleção natural, as duas forças que dirigem a evolução biológica no mundo animal, perdem sua importância decisiva no terreno do desenvolvimento histórico do homem. Agora, estas novas leis tomam seu lugar: aquelas que regulam o curso da história humana e que abarcam a totalidade do processo do desenvolvimento material e mental da sociedade humana (Vygotsky 1930/1998 b, p.110).
Portanto, há uma substituição da evolução biológica, pela evolução histórica e social, sendo que essa passa a ser mais determinante que aquela para a evolução dos seres humanos. E essa dimensão histórica e social é fruto do salto ontológico dado pela humanidade a partir do trabalho humano que tem Imaginação e Criação como partes desse processo.
Das divergências ontológicas: discursos semelhantes com raízes divergentes
A imaginação sempre fora relegada, pelas correntes racionalistas, a uma interpretação “mágica” pertencente ao mundo “sobrenatural” – metafísica – por isso, indigna de um estudo científico. Para Sawaia (2009, p. 366), a dimensão da imaginação juntamente com a do afeto na personalidade humana são “esquecidas e discriminadas como perturbadoras da ordem social, do comportamento virtuoso e do conhecimento”. Portanto, há nesta pesquisa, ainda que de forma tácita, um questionamento norteador fundamental: a prevalência do paradigma cartesiano.
Embora na tradição filosófica moderna a criação e, sobretudo a imaginação tenha sido relegada ou à ontologia religiosa, ou mesmo, como processos coadjuvantes ao processo da Razão, que, para o pensamento moderno, assume a primazia dos processos filosóficos e científicos. Analisou-se essas duas categorias (imaginação e criação) a partir de autores que, compreendendo a importância dessas capacidades humanas, se debruçaram em estudos cujos desdobramentos levaram a caminhos divergentes. No entanto, devem ser analisados, sobretudo por meio dessa divergência, ainda que apresentem pontos em comum.
Imaginação e criação foram analisadas, portanto, como capacidades inerentemente humanas, radicalmente diferente das dos outros animais. São capacidades fundamentais a essência humana e que não devem ser relegadas ao divino ao sagrado ou deixadas à margem da lógica filosófica herdada, como acertadamente criticava Castoriadis. Todavia, não podem ser compreendidas como a ontologia do ser social, pois o que é gênese e essência do humano, enquanto ser social, é o trabalho de transformação da natureza a fim de saciar uma necessidade humana e, consequentemente, transformação dessa própria humanidade em níveis coletivos e/ou individuais.
Essa é a mais fundamental premissa desse trabalho e fonte das críticas à ontologia proposta por Castoriadis fundada no imaginário. É preciso compreender e frisar que imaginação e criação são capacidades humanas radicalmente diferentes dos animais porque estão fundadas no trabalho.
A compreensão da ontologia marxiana à luz da Ontologia do Ser Social de Lukács iluminam agora, não só os apontamentos que são aqui trabalhados, como também a leitura crítica do próprio trabalho de dissertação que deu origem a este artigo que, vale ressaltar, é finalizado justamente nos anos em que a tradução dos livros de Lukács são oficialmente publicadas em português.
Aponta-se aqui os equívocos das interpretações anteriores pela perspectiva crítica e fundamental da ontologia marxiana para a compreensão da essência humana e do papel que exercem as capacidades de imaginação e criação na constituição do ser humano.
A fundamental leitura de Marx sobre os determinantes sociais que constituem a sociedade e sua historicidade enraizadas no no trabalho humano como ontológico, ou seja, fundante do ser social (como nos demonstra Lukács) no campo da aparência, pode parecer dar primazia estas capacidades inerentemente humanas, aqui analisadas enquanto categorias: Imaginação e Criação, já que, para Marx, é o ser social capaz de imaginar e criar determinações sociais que o constitui e constitui a sociedade de forma coletiva
Contudo, é preciso apontar que não fosse o trabalho humano ontológico do ser social, tais capacidades não poderiam existir, não brotariam da psique humana por puro prazer ou desprazer, ou como fruto do desejo, como demonstram os experimentos e a teoria de Vygotsky acerca do desenvolvimento das funções Psicológicas Superiores e da consciência. Este autor demonstra que, essas capacidades só existem da forma como se apresentam no ser humano, porque integram o trabalho ontológico.
São essas capacidades humanas de imaginar e criar intrinsecas ao processo do trabalho humano que permitem Marx dizer, por exemplo:
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colméia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente (Marx, 2011, p. 327).
Imaginação e criação, então, são parte do processo do trabalho fundante da humanidade, a partir do que Lukács vai chamar de salto ontológico. Dessa forma, é Lukács quem demonstra a originalidade de Marx ao quebrar com, os assim chamados, paradigmas das ciências modernos e fundar uma ciência que se baseia em uma ontologia própria ao ser humano, a Ontologia do Ser Social: A ontologia marxiana do ser social exclui a transposição simplista, materialista vulgar, das leis naturais para a sociedade, como era moda, por exemplo, na época do “darwinismo social”. As formas de objetividade do ser social se desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais claramente sociais. Esse desenvolvimento é um processo dialético, iniciado com um salto, com o pôr teleológico no trabalho, para o qual não pode haver nenhuma analogia na natureza. (Lukács, 2012, p.???)
A densidade da obra marxiana, apreendida por Vygotsky[1] e aplicada à análise desenvolvimento humano, de sua consciência e à Ciência Psicológica, reside justamente no deslocamento da forma de análise do ser social.
Marx deixa de lado as importações paradigmáticas das ciências da natureza como faz o pensamento científico da modernidade e como também o fizeram as diversas correntes que se dizem pós-modernas, ao traduzir as leis, agora, da física quântica e sua relatividade para os paradigmas das ciências humanas.
O que Marx nos deixa como legado fundamental de sua obra é: a humanidade possui uma ontologia própria, ela se funda nessa ontologia, cria essa ontologia e por essa razão se descola da natureza. É certo dizer que vivencia uma relação de dependência para com a natureza mas, ainda assim, é certo também que subverte constantemente esta natureza seja o ambiente em que vive, transformando‑o à sua necessidade seja do próprio substrato biológico, o organismo humano. Marx assim descreve esse processo:
Ele (o trabalhador/ser humano) utiliza as propriedades mecânicas, químicas e físicas das coisas para fazê-las atuar sobre outras coisas, de acordo com seu propósito. O objeto de que o trabalhador se apodera imediatamente — desconsiderando-se os meios de subsistência encontrados prontos na natureza, como as frutas, por exemplo, em cuja coleta seus órgãos corporais servem como únicos meios de trabalho — é não o objeto do trabalho, mas o meio de trabalho. É assim que o próprio meio natural se converte em órgão de sua atividade, um órgão que ele acrescenta a seus próprios órgãos corporais, prolongando sua forma natural, apesar daquilo que diz a Bíblia. Do mesmo modo como a terra é seu armazém original de meios de subsistência, ela é também seu arsenal originário de meios de trabalho (Marx, 2011, p. 329).
Destarte, só a partir dessa leitura que se pode afirmar a importância das categorias que analisamos, Imaginação e criação, na medida em que compreendidas as determinações sociais e históricas da própria constituição da nossa consciência a fim de demonstrar como o ser humano é capaz de criar e instituir sentidos, significados individuais, sobretudo, coletivos, é, por fim capaz de instituir e criar sistemas sociais, filosóficos, políticos, culturais, etc.
Neste ponto, Castoriadis acerta em sua análise sobre o fazer humano, mas deixa se levar pela aparência do fenômeno ao tributar a ontologia do ser social ao Imaginário Radical, uma vez que, esse só existe e só pode existir como parte da ação fundante do ser social: o trabalho.
A dimensão do imaginário não deve ser desconsiderada da ontologia, para Rotolo, é justamente isso que Castoriadis faz: “(…) resgatar outra dimensão da ontologia, a partir da indeterminação e da imaginação como sendo também fundamentais, além da razão e da determinidade (Rotolo, 2011, p. 173).”
Nem imaginação nem criação, no entanto, existem per se, o próprio Castoriadis aponta que tais atividades não são ex-nihilo ou in-nihilo mas cum-nihilo e que a origem destas atividades e da atividade eminentemente psíquica de criar representações, no campo individual, se dá por meio do afeto, daquilo que afeta o corpo e gera desprazer, portanto de uma base material.
Todavia, Castoriadis contesta a centralidade do trabalho, o qual, para ele, já está por si só determinado. Além disso, entende que a criatividade e a imaginação não podem se dar pela superação, mas como criação de algo novo, novas formas. Colocar a existência aquilo que não havia corresponde no mundo real, material, em última instância, constituir o real a partir do Imaginário Radical.
A determinação objetiva e material, porém, está posta na medida em que o ser humano vive e depende da sua relação com a natureza e com a realidade objetiva e material. A questão aqui é: a capacidade de transformação teleológica dessa natureza ou dessa realidade objetiva e material. Nesse sentido, o movimento de superação dialético é um movimento de negação do que era pra surgir algo que será. Ainda que, incorporando, nesse movimento, alguns traços daquilo que é negado, essa incorporação não é e nem pode ser uma incorporação de completude, mas sim de superação e aqui superação/negação encerram, por fim, aquilo que era e deixa de ser, é um movimento de criar algo que não existia antes, baseado no que já havia e, por conseguinte, fazendo com o que existia deixe de existir da forma como era antes.
A possibilidade de agir de forma livre da determinidade biológica e/ou natural que os seres humanos adquiriram, não é fruto de Imaginação, mas de trabalho teleologicamente orientado para um fim. Não se pode cair na ilusão de que imaginação e criação enquanto base da liberdade humana estão, por sua vez, livres da base material que as constitui, sob pena de uma liberdade falsa ou parcial.
Imaginar algo que não se pode objetivar é manter-se no embotamento individual do campo das ideias de um mundo próprio e não partilhado ou partilhável e encerra-se em si mesmo como sujeito individual e não social ou coletivo. O ser social, todavia, deve ser compreendido em sua totalidade como algo que se constitui e se atualiza na e pela totalidade, e não apenas em partes da particularidade ou do processo ontológico. A elaboração puramente ideal, por conseguinte, pode facilmente cindir o que forma um todo no plano do ser, e atribuir às suas partes uma falsa autonomia (Lukács, 2012)
Ora, é em Marx, em sua ontologia que se encontrar a demonstração da natureza material da constituição de nossa humanidade e é em Vygotsky que se encontra a demonstração, por meio do Materialismo histórico e dialético, de como se dá a constituição da psique, da subjetividade e consciência humana a partir da transformação das funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores para as quais não há nenhum outro correspondente no reino animal.
Assim, a atividade de sempre lidar com a realidade objetiva a cada vez de forma nova e transformar essa realidade sempre em algo novo é própria desse ser social “(…) que se particulariza pela incessante produção do novo, através da transformação do mundo que o cerca de maneira conscientemente orientada, teleologicamente posta (Lessa, 2015, p. 16)”.
Portanto, estudar as raízes da atividade de transformação da natureza, do próprio ser humano e de sua criação de sentidos e significados, é ir para além do campo da aparência e chegar a sua gênese que é o trabalho. Dessa feita, conforme Vygotsky afirmou, estudar não apenas a capacidade do agir em liberdade, mas compreender que imaginação e criação se constituem como ponto de união entre meio interno/subjetivo e externo/objetivo. É por causa da existência da Imaginação e da criação diretamente ligada a este sistema que somos, em última instância, capazes de objetivar nossa subjetividade
Sem objetivação/exteriorização não há nenhuma transformação teleologicamente posta do real; sem exteriorização/objetivação não há vida social, portanto não há sujeito. Ser humano, para Lukács, significa uma crescente capacidade de objetivar/exteriorizar − isto é – transformar o mundo segundo finalidades socialmente postas. Talvez por isso, a Vygotsky tenham sido tão caros os estudos sobre arte como exteriorização/objetivação da subjetividade mediada pela consciência. (Lessa, 2015, p.25)
Considerações finais
Ao longo da pesquisa que deu origem a esse artigo, buscou-se compreender os discursos comuns de autores com radicais diferenças teóricas e em que, exatamente, residia esta divergência. Tal tarefa se concluiu, anos mais tarde, a partir da leitura e compreensão da Ontologia do Ser Social, longamente discutida e apresentada na obra de Lukács e de autores da tradição marxistas que traçam um pensamento crítico, baseados na obra lukatiana.
Nesse sentido, a compreensão da diferença entre as ontologias dos autores aqui trabalhados, produz um debate que analisa, em última instância, o critério de sua teoria. Dessa forma, pode-se analisar o trabalho como fundante do Ser Social e, por conseguinte, a constituição da consciência e de Funções Psicológicas Superiores como Imaginação e Criação como parte das práxis humanas, inclusive da práxis fundante.
Referências
Autora, 2013.
Autora et.al., 2008.
Carmo, F. M. do (2008) Vigotsky: um estudo à luz da centralidade ontológica do trabalho.. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de pós-Graduação em Educação Brasileira. Recuperado de: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3165.
Castoriadis, C. (2000). A Instituição Imaginária da Sociedade. Paz e Terra. ISBN-13: 978–8577530304
Castoriadis, C. (2004). As encruzilhadas do Labirinto: Figuras do Pensável. Civilização Brasileira. ISBN-13: 978–8520005798
Castoriadis, C. (2007). Sujeito e verdade no mundo social e histórico: Seminários 1986–1987: A criação humana I. Civilização Brasileira. ISBN-13: 978–8520006467
Costa, E. M. da (2020). O método na obra de Vigotski e a abordagem ontológica do desenvolvimento humano: uma análise histórica. Tese (Doutorado em Psicologia) ‑Universidade Estadual Paulista, Assis. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11449/194309
González-Rey, F. L. (2003). Sujeito e Subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. Pioneira Thomson Lerning. ISBN 978–85-221‑1589‑1
Lessa, S. (2015). Para compreender a ontologia de Lukács (4ª ed.). Instituto Lukács.
Lukács, G. (2012). Para uma ontologia do Ser Social I (1ª ed.). Boitempo. ISBN-13: 978–8575596395
Marx, K. (2011). O capital: crítica da economia política: o processo de produção do capital (2ª ed., Vol. I). Boitempo. ISBN-13: 978–8575595480
Rotolo, T. d. M. S. (2012). O elogio da política: práxis e autonomia no pensamento de Cornelius Castoriadis. Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política, 2011. https://repositorio.unb.br/handle/10482/10129
Sawaia, B. B. (2009). Psicologia e desigualdade social: uma reflexão sobre liberdade e transformação. Psicologia e Sociedade, 21(3), 364–372. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-71822009000300010
Vygotsky, L. S. (1924/2004). Psicologia Pedagógica. Martins Fontes. ISBN-13 : 978–8578272937
____________. (1925/1972). Psicología del arte. Barral.
____________. (1930/2009). Imaginação e Criação na Infância. Ática. ISBN-13 978–8508126118
____________. (1930/2011). La imaginación y el arte en la infancia. Ediciones Akal. ISBN-13: 978–8446020837
____________. (1930/1998). La modificación socialista del hombre. Almagesto.
____________.. (1930/2004). Teoria e Método em Psicologia. Martins Fontes. ISBN-13: 978–8533620186
____________. (1932/1998). O desenvolvimento Psicológico na infância. Martins Fontres. ISBN-13: 978–8533608078
____________. (2007). A formação social da mente. Martins Fontes. ISBN-13: 978–853362264
Notas
- Este debate sobre a compreensão vygotskiana da Ontologia marxista está densamente apresentado nos trabalhos de Carmo (2008) e Costa (2020) que corroboram com nossa afirmação da apreensão da Ontologia marxiana por Vygotsky e leitura da obra vygotskiana pela ótica da Ontologia do Ser Social. ↑